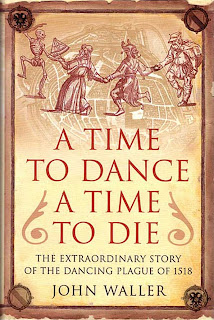No Natal de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, soldados ingleses e alemães deixaram as trincheiras e fizeram uma trégua. Durante seis dias, eles enterraram seus mortos, trocaram presentes e jogaram futebol
por Bruno Leuzinger
Finalmente parou de chover. A noite está clara, com céu limpo, estrelado, como os soldados não viam há muito tempo. Ao contrário da chuva, porém, o frio segue sem dar trégua. Normal nesta época do ano. O que não seria normal em outros anos é o fedor no ar. Cheiro de morte, que invade as narinas e mexe com a cabeça dos vivos – alemães e britânicos, inimigos separados por 80, 100 metros no máximo. Entre eles está a “terra de ninguém”, assim chamada porque não se sobreviveria ali muito tempo. Cadáveres de combatentes de ambos os lados compõem a paisagem com cercas de arame farpado, troncos de árvores calcinadas e crateras abertas pelas explosões de granadas. O barulho delas é ensurdecedor, mas no momento não se ouve nada. Nenhuma explosão, nenhum tiro. Nenhum recruta agonizante gritando por socorro ou chamando pela mãe. Nada.
E de repente o silêncio é quebrado. Das trincheiras alemãs, ouve-se alguém cantando. Os companheiros fazem coro e logo há dezenas, talvez centenas de vozes no escuro. Cantam “Stille Nacht, Heilige Nacht”. Atônitos, os britânicos escutam a melodia sem compreender o que diz a letra. Mas nem precisam: mesmo quem jamais a tivesse escutado descobriria que a música fala de paz. Em inglês, ela é conhecida como “Silent Night”; em português, foi batizada de “Noite Feliz”. Quando a música acaba, o silêncio retorna. Por pouco tempo.
“Good, old Fritz!”, gritam os britânicos. Os “Fritz” respondem com “Merry Christmas, Englishmen!”, seguido de palavras num inglês arrastado: “We not shoot, you not shoot!”(“Nós não atiramos, vocês também não”).
Estamos em algum lugar de Flandres, na Bélgica, em 24 de dezembro de 1914. E esta história faz parte de um dos mais surpreendentes e esquecidos capítulos da Primeira Guerra Mundial: as confraternizações entre soldados inimigos no Natal daquele ano. Ao longo de toda a frente ocidental – que se estendia do mar do Norte aos Alpes suíços, cruzando a França –, soldados cessaram fogo e deixaram por alguns dias as diferenças para trás. A paz não havia sido acertada nos gabinetes dos generais; ela surgiu ali mesmo nas trincheiras, de forma espontânea. Jamais acontecera algo igual antes. É o que diz o jornalista alemão Michael Jürgs em seu livro Der Kleine Frieden im Grossen Krieg – Westfront 1914: Als Deutsche, Franzosen und Briten Gemeinsam Weihnachten Feierten (“A Pequena Paz na Grande Guerra – Frente Ocidental 1914: Quando Alemães, Franceses e Britânicos Celebraram Juntos o Natal”, inédito no Brasil).
Conhecido então como Grande Guerra (pouca gente imaginava que uma segunda como aquela seria possível), o conflito estourou após a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele e sua esposa Sofia foram assassinados em Sarajevo, na Sérvia, no dia 28 de junho. O atentado, cometido por um estudante, fora tramado por um membro do governo sérvio. Um mês mais tarde, em 28 de julho, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. As nações européias se dividiram. Grã-Bretanha, França e Rússia se aliaram aos sérvios; a Alemanha, aos austro-húngaros. Nas semanas seguintes, os alemães invadiram a Bélgica, que até então se mantivera neutra, e, ainda em agosto, atravessaram a fronteira com a França. Chegaram perto de tomar Paris, mas os franceses os detiveram, em setembro.
Nos primeiros meses, a propaganda militar conseguiu inflar o orgulho dos soldados – de lado a lado. O fervor patriótico crescia paralelamente ao ódio pelos inimigos. Entretanto, em dezembro o moral das tropas já despencara. A guerra se arrastava havia quase um semestre. Os britânicos haviam perdido 160 mil homens até então; Alemanha e França, 300 mil cada. Para piorar, as condições nas trincheiras eram péssimas. O odor beirava o insuportável, devido às latrinas descobertas e aos corpos em decomposição. Estirados pela terra de ninguém, cadáveres atraíam ratazanas aos milhares. Era um verdadeiro banquete. Com tanta carne, elas engordavam tanto que algumas eram confundidas com gatos. Pior que as ratazanas, só os piolhos. Milhões deles, nos cabelos, barbas, uniformes. Em toda parte.
Quando chovia forte, a água batia na altura dos joelhos. Dormia-se em buracos escavados na parede e era comum acordar assustado no meio da noite, por causa das explosões ou de uma ratazana mordiscando seu rosto. Durante o dia, quem levantasse a cabeça sobre o parapeito era um homem morto. Os franco-atiradores estavam sempre à espreita (no final da tarde, praticavam tiro ao alvo no inimigo e, quando acertavam, diziam que era um “beijo de boa-noite”). O soldado entrincheirado passava longos períodos sem ter o que fazer. Horas e horas de tédio sentado no inferno. Só restava esperar e olhar para céu – onde não havia ratazanas nem cadáveres.
O cotidiano de horrores foi minando a vontade de lutar. Uma semana antes do Natal já havia sinais disso. Foi assim em Armentières, na França, perto da fronteira com a Bélgica. Soldados alemães arremessaram um pacote para a trincheira britânica. Cuidadosamente embalado, trazia um bolo de chocolate e dentro, escondido, um bilhete. Os alemães pediam um cessar-fogo naquela noite, entre 19h30 e 20h30. Era aniversário do capitão deles e queriam surpreendê-lo com uma serenata. O bolo era uma demonstração de boa vontade. Os britânicos concordaram e, na hora da festa inimiga, sentaram no parapeito para apreciar a música. Aplaudidos pelos rivais, os alemães anunciaram o encerramento da serenata – e da trégua – com tiros para cima. Em meio à barbárie, esses pequenos gestos de cordialidade significavam muito.
Ainda assim, era difícil imaginar o que estava por vir. Na noite do dia 24, em Fleurbaix, na França, uma visão deixou os britânicos intrigados: iluminadas por velas, pequenas árvores de Natal enfeitavam as trincheiras inimigas. A surpresa aumentou quando um tenente alemão gritou em inglês perfeito: “Senhores, minha vida está em suas mãos. Estou caminhando na direção de vocês. Algum oficial poderia me encontrar no meio do caminho?” Silêncio. Seria uma armadilha? Ele prosseguiu: “Estou sozinho e desarmado. Trinta de seus homens estão mortos perto das nossas trincheiras. Gostaria de providenciar o enterro”. Dezenas de armas estavam apontadas para ele. Mas, antes que disparassem, um sargento inglês, contrariando ordens, foi ao seu encontro. Após minutos de conversa, combinaram de se reunir no dia seguinte, às 9 horas da manhã.
No dia seguinte, 25 de dezembro, ao longo de toda a frente ocidental, soldados armados apenas com pás escalaram suas trincheiras e encontraram os inimigos no meio da terra de ninguém. Era hora de enterrar os companheiros, mostrar respeito por eles – ainda que a morte ali fosse um acontecimento banal. O capelão escocês J. Esslemont Adams organizou um funeral coletivo para mais de 100 vítimas. Os corpos foram divididos por nacionalidade, mas a separação acabou aí: na hora de cavar, todos se ajudaram. O capelão abriu a cerimônia recitando o salmo 23. “O senhor é meu pastor, nada me faltará”, disse. Depois, um soldado alemão, ex-seminarista, repetiu tudo em seu idioma. No fim, acompanhado pelos soldados dos dois países, Adams rezou o pai-nosso. Outros enterros semelhantes foram realizados naquele dia, mas o de Fleurbaix foi o maior de todos.
Aquela situação por si só já era inusitada: alemães e britânicos cavando e rezando juntos. Mas o que se viu depois foi um desfile de cenas surreais. Em Wez Macquart, França, um britânico cortava os cabelos de qualquer um – aliado ou inimigo – em troca de alguns cigarros. Em Neuve Chapelle, também na França, os soldados indicavam discretamente para seus novos amigos a localização das minas subterrâneas. Em Pervize, na Bélgica, homens que na véspera tentavam se matar agora trocavam presentes: tabaco, vinho, carne enlatada, sabonete. Uns disputavam corridas de bicicleta, outros caçavam coelhos. Uma luta de boxe entre um escocês e um alemão foi interrompida antes que os dois se matassem. Alguém sugeriu um duelo de pistolas entre um alemão e um inglês, mas a idéia foi rechaçada – afinal, aquilo era um cessar-fogo.
Porém, o melhor estava por vir. Nos dias 25 e 26, foram organizadas animadas partidas de futebol. Centenas jogaram bola nos campos de batalha. “Bola” em muitos casos era força de expressão; podia ser apenas um monte de palha amarrado com arame, ou uma lata de conserva vazia. E, no lugar de traves, capacetes, tocos de madeira ou o que estivesse à mão. Foi assim em Wulvergem, na Bélgica, onde o jogo foi só pelo prazer da brincadeira, ninguém prestou atenção no resultado. Mas houve também partidas “sérias”, com direito a juiz e a troca de campo depois do intervalo. Numa delas, que se tornou lendária, os alemães derrotaram os britânicos por 3 a 2. A vitória suada foi cercada de polêmica: o terceiro gol alemão teria sido marcado em posição irregular (o atacante estava impedido) e a partida, encerrada depois que a bola – esta de verdade, feita de couro – furou ao cair no arame farpado.
A maioria das confraternizações se deu nos 50 quilômetros entre Diksmuide (Bélgica) e Neuve Chapelle. Os soldados britânicos e alemães descobriam ter mais em comum entre si que com seus superiores – instalados confortavelmente bem longe da frente de batalha. O medo da morte e a saudade de casa eram compartilhados por todos. Já franceses e belgas eram menos afeitos a tomar parte no clima festivo. Seus países haviam sido invadidos (no caso da Bélgica, 90 por cento de seu território estava ocupado), para eles era mais difícil apertar a mão do inimigo. Em Wijtschate, na Bélgica, uma pessoa em particular também ficou muito irritada com a situação. Lutando ao lado dos alemães, o jovem cabo austríaco Adolf Hitler queixava-se do fato de seus companheiros cantarem com os britânicos, em vez de atirarem neles.
Naquele tempo, Hitler ainda não apitava nada. Entretanto, os homens que davam as cartas também não estavam nem um pouco felizes. Dos quartéis-generais, os senhores da Guerra mandaram ordens contra qualquer tipo de confraternização. Quem desrespeitasse se arriscava a ir à corte marcial. A ameaça fez os soldados voltarem para as trincheiras. Durante os dias seguintes, muitos ainda se recusavam a matar os adversários. Para manter as aparências, continuavam atirando, mas sempre longe do alvo. Na noite do dia 31, em La Boutillerie, na França, o fuzileiro britânico W.A. Quinton e mais dois homens transportavam sua metralhadora para um novo local, quando de repente ouviram disparos da trincheira alemã. Os três se jogaram no chão, até perceberem que os tiros eram para o alto: os alemães comemoravam a virada do ano.
A trégua velada resistiu ainda por um tempo. Até março de 1915, alemães e britânicos entrincheirados em Festubert, na França, faziam de conta que a guerra não existia – ficava cada um na sua. Mas a lembrança das confraternizações foi aos poucos cedendo espaço para o ódio. A carnificina recrudesceu, prosseguindo até a rendição da Alemanha, em novembro de 1918, arrasando a Europa e deixando cerca de 10 milhões de mortos. Talvez a matança até valesse a pena, se a profecia do escritor de ficção científica H.G. Wells tivesse dado certo. O autor de A Máquina do Tempo escrevera em um ensaio que aquela seria “a guerra que acabaria com todas as guerras”. Wells, é claro, estava enganado. Os momentos de paz, como os do Natal de 1914, seriam escassos também ao longo de todo o século 20. A Grande Guerra tinha sido só o começo.
Fonte: Aventuras na História


 Trabalho forçado em obras do grupo químico IG-Farben no campo de concentração de Auschwitz
Trabalho forçado em obras do grupo químico IG-Farben no campo de concentração de Auschwitz Prisioneiros soviéticos de guerra recrutados para trabalhos forçados em Zelthain, no ano de 1942
Prisioneiros soviéticos de guerra recrutados para trabalhos forçados em Zelthain, no ano de 1942 Trabalhadores forçados eram também enforcados diante dos demais, como forma de ameaça e coação
Trabalhadores forçados eram também enforcados diante dos demais, como forma de ameaça e coação Pranchas do antigo navio são vistas nesta quinta-feira (18) no Marco Zero, em Manhattan. (Foto: AP)
Pranchas do antigo navio são vistas nesta quinta-feira (18) no Marco Zero, em Manhattan. (Foto: AP) Arqueólogos observam o casco da embarcação nesta quinta (15). (Foto: AP)
Arqueólogos observam o casco da embarcação nesta quinta (15). (Foto: AP)